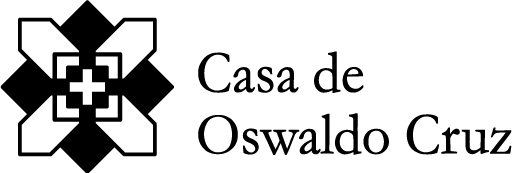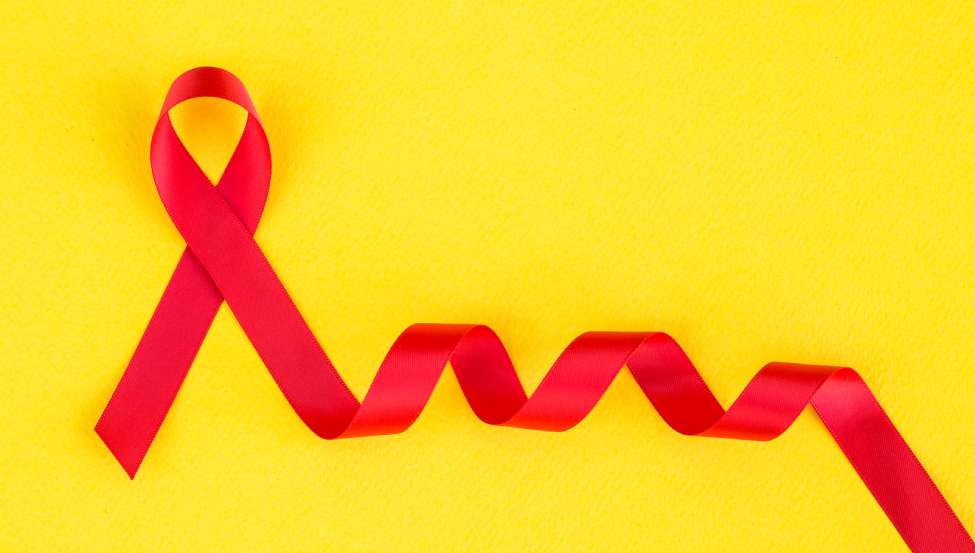| Imagem: iStock. |
Por Karine Rodrigues
Em 1985, ano em que cientistas desenvolveram o primeiro teste para detecção de anticorpos contra o vírus HIV, Veriano Terto concluía a graduação em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Naquele momento, a doença que surgira nos Estados Unidos nos anos 1980 e se transformara em uma das epidemias mais devastadoras da história já era conhecida como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), infecciosa e transmissível.
 |
| Veriano Terto. Foto: Divulgação/Abia. |
Além do comprometimento do sistema imune, do sarcoma de Kaposi e da pneumonia causada por Pneumocystis carinii, os primeiros pacientes apresentavam outro ponto em comum: eram homens adultos, homossexuais e moradores de São Francisco ou Nova York. Foi o suficiente para uma grande onda de preconceito que, ao longo desses 40 anos, até reduziu de tamanho, mas ensaia crescer novamente com a reemergência do conservadorismo moral e do dogmatismo religioso.
“A Aids chegou ao país como uma doença que estava matando gays e vinha como um castigo contra sexualidades tachadas como devassas, desviadas, desviantes. Esses preconceitos chegaram antes mesmo dos casos. Quando os casos surgiram, já estava instalado esse pânico moral em relação à epidemia”, relata Terto, vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia).
A história da Aids no Brasil, ele conhece bem. Testemunhou de perto o empenho do país na luta contra a doença ao se tornar coordenador de projetos da Abia em 1989. Desde então, tem se dedicado ao tema, e participado ativamente dos esforços para reduzir a contaminação e garantir o tratamento para os soropositivos.
Campanhas deixam a desejar, e a população desconhece muita coisa sobre o que são e para que servem as profilaxias. É preciso envolver mais as comunidades para que acompanhem os estudos e, dessa maneira, possam incorporar a profilaxia no seu dia a dia.
Terto acompanhou o início do uso do AZT, em 1987, primeira droga eficaz no tratamento da doença; a virada ocorrida em 1995, com os inibidores de protease, uma nova classe de antirretrovirais, consolidando o ataque ao vírus HIV antes do desenvolvimento da Aids; a aprovação da Lei 9.313, que garante a distribuição gratuita de medicamentos; e a quebra de patente para garantir o fornecimento de remédios, medida que aumentou de forma significativa a sobrevida do paciente. O Programa Nacional de Aids se tornou referência mundial. Os 40 anos dessa história estão contados no acervo da Abia, que está sob a guarda do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica (Icict/Fiocruz).
Ao olhar para trás, Terto faz um paralelo entre a pandemia de Covid-19 e a epidemia de Aids. Vê pontos em comum entre as duas, como o negacionismo e a necessidade de mudança de hábitos comportamentais, mas avalia que há uma grande diferença na resposta à doença.
“No caso da Covid, tem mobilizações comunitárias, mas não exatamente uma bandeira de luta contra a Covid. [Essas mobilizações] são para atender uma emergência, [distribuir] cesta básica, álcool gel, mitigar uma situação grave, mas não geram um discurso mais político, de mais participação no sentido de criar associações [ou] dentro dos movimentos sociais, [de] fazer um ativismo mais voltado para criar políticas públicas e denunciar a situação”, avalia o psicólogo e doutor em Saúde Coletiva.

Manifestação no Rio durante o Dia Mundial da Aids em 1988. Foto: Acervo Abia/Icict.
Apesar dos avanços, a epidemia de Aids não está controlada. A doença segue incurável, sem vacina para preveni-la. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, até meados de 2019, existiam 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, sendo que 67% têm acesso à terapia antirretroviral. Segundo a Unaids, Programa Conjunto da ONU para HIV/Aids, doenças relacionadas à Aids ainda são a principal causa de morte de mulheres entre 15 e 49 anos. Semanalmente, cerca de 6 mil mulheres, entre 15 e 24 anos, são infectadas pelo HIV, a maioria na África.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, existem hoje cerca de 920 mil pessoas com diagnóstico de HIV positivo, sendo que 77% desse total fazem tratamento com antirretrovirais. Entre 2010 e 2018, houve alta de 21% no número de novas infecções, de acordo com o Unaids. Novas configurações apontam que a doença cresceu entre os idosos, decorrência do livre comércio de medicamentos para disfunção erétil e dos aplicativos de relacionamentos afetivos.
No Dia Mundial de Luta contra Aids, comemorado nesta quarta-feira, 1º de dezembro, a OMS conclamou líderes governamentais e cidadãos de todo o mundo a participar de um grande movimento de solidariedade global para manter os serviços essenciais de HIV em funcionamento durante a pandemia de Covid-19.
Terto chama atenção para os grupos vulneráveis, em especial, os que têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde em decorrência de questões relacionadas à sexualidade, como homens que fazem sexo com homens, prostitutas e travestis. Segundo ele, o estigma e a discriminação muitas vezes impedem as pessoas de buscar diagnóstico e tratamento.
Leia, abaixo, os principais trechos da entrevista.
O que você recorda dos primeiros tempos da Aids no Brasil?
A Aids chegou ao país como uma doença que estava matando gays e vinha como um castigo contra sexualidades tachadas como devassas, desviadas, desviantes. Esses preconceitos chegaram antes mesmo dos casos. Quando os casos surgiram, já estava instalado esse pânico moral em relação à epidemia. E havia também manifestações de negacionismo, como vemos hoje, tanto por parte de governo quando das pessoas mais afetadas, por exemplo, homossexuais masculinos. O primeiro nome da doença, na verdade, foi grid, iniciais em inglês para gay-related immune deficiency, imunodeficiência relacionada aos gays, já que os primeiros casos foram registrados na população homossexual. Era um problema da sexualidade, não de um vírus. Isso tocou num tabu imenso, que é a questão da sexualidade e da homossexualidade, mais especificamente, e num outro tabu que é a questão do sangue, pois também começava a surgir um número de casos entre pessoas hemofílicas e outras que também tinham passado por transfusão. O vírus só vai ser identificado efetivamente em 1984, quando todos esses juízos já haviam se disseminado pelo planeta.
E como foram as primeiras campanhas?
Elas seguiam esse discurso que alimenta o pânico moral. Era aquela época das campanhas [que diziam que] “se você não se cuidar, a Aids vai te pegar”, um discurso muito focado em estimular mais o medo, o terror, o preconceito, do que a solidariedade, a informação correta, tranquilizadora, abalizada. A gente vê ainda hoje a tendência de esse tipo de perspectiva se repetir.
O estigma e o preconceito permanecem?
Claro. E agora, com esse contexto muito conservador, principalmente na pauta dos costumes, ele tende a se reforçar. Chegamos em 1989 já com um movimento social de Aids formado. Ele começou ainda na primeira metade dos anos 1980 justamente para cobrir a inércia e a falta de respostas governamentais, federais principalmente. Então, a sociedade civil, dentro daquele espírito de remodecratização, do fim da ditadura, começa a associar o fato de haver um movimento gay e, logo em seguida, um movimento feminista, que já discutiam as questões de saúde. Já havia pessoas mobilizadas – e isso ajudou muito a criar esse movimento social de Aids –, principalmente pessoas que vinham do movimento gay e também cientistas. A Aids é uma epidemia, mas também se transformou quase numa causa política, virou uma bandeira de luta. As populações mais frontalmente atingidas se mobilizaram em torno dessa bandeira, à qual, claro, os direitos humanos se associam.
Que paralelo você traçaria entre a epidemia de Aids e a pandemia de Covid-19?
No caso da Covid, tem mobilizações comunitárias, mas não exatamente uma bandeira de luta contra a Covid. [Essas mobilizações] são para atender uma emergência, [distribuir] cesta básica, álcool gel, mitigar uma situação grave, mas não geram um discurso mais político, de mais participação no sentido de criar associações [ou] dentro dos movimentos sociais, [de] fazer um ativismo mais voltado para criar políticas públicas e denunciar a situação.
E isso diz muito sobre o momento que vivemos…
É um momento de desarticulação, de empobrecimento da população, em várias dimensões. A maneira com que a sociedade respondeu à Aids e responde à Covid-19 é bem diferenciada, apesar de serem epidemias que têm pontos em comum, como, por exemplo, serem muito impulsionadas pela desigualdade social e atingirem mais as pessoas estigmatizadas ou aquelas sem condições de acender ao serviço de saúde. São doenças que acabam justificando ações de discriminação contra grupos sociais. O nosso presidente fala a toda hora sobre o vírus chinês. [Donald] Trump também. [Há] uma tentativa de se estigmatizar a China e os chineses da mesma forma que se falava que a Aids era uma doença africana ou de gays. São doenças que trazem uma epidemia de metáforas, de significações. Fora essa questão de desigualdade, a Aids e a Covid-19 são doenças caras, que precisam de insumos e de mudanças comportamentais permanentes ou, pelo menos, de longo prazo.
Existem atualmente cerca de 920 mil pessoas com diagnóstico de HIV positivo no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Apesar dos entraves causados pela Covid-19, o governo federal declarou que não houve e não há desabastecimento na dispensação de medicamentos para tratamento da doença. O monitoramento do Observatório Nacional de Políticas de Aids, da Abia, aponta na mesma direção?
Trabalhamos com a estimativa do Ministério da Saúde. Não temos outra fonte minimamente confiável. Sobre a dispensação de medicamentos, não temos notícia de desabastecimento. Mas há um levantamento da Articulação Nacional de Luta contra Aids [Anaids] que aponta para um cancelamento de consultas e exames no Sistema Único de Saúde [SUS], por causa da Covid-19. [Há] pessoas que tiveram seus médicos deslocados para atender a Covid-19 e precisaram refazer o seu vínculo com o profissional de saúde. Há uma tendência de redução na dispensação da PrEP por conta das urgências da Covid-19. Sobre o desabastecimento, ainda não [há]. A gente até fala que o grande pilar de sustentação do Programa Nacional de Aids ainda é a distribuição de medicamentos porque é o que tem funcionado mais regularmente. Reconhecemos que há um esforço por manter isso.
O Brasil se tornou referência internacional em tratamento e prevenção contra a HIV/Aids. Como você situaria o país hoje? Permanecemos bem?
Mais ou menos. Na prevenção, o Brasil tem incorporado a profilaxia pré-exposição – PrEP [método que consiste na tomada diária de um comprimido, que impede que o vírus causador da Aids infecte o organismo] e incorporou a profilaxia pós-exposição – PEP [usada imediatamente após situações em que haja risco de contágio, como violência sexual, acidente ocupacional e relação sexual sem uso da camisinha]. Isso é muito bom. Mas ainda são programas que precisam avançar mais. A PrEP está uma fase ainda inicial. Nem todas as pessoas que querem e estão elegíveis podem acessá-la, porque ainda é preciso ampliar para mais cidades, para mais serviços.
A PEP também esbarra em problemas de preconceito, de má preparação do profissional de saúde que vai aplicá-la, e de questões estruturais, como o horário de serviço. Por exemplo: se a pessoa se expôs ao risco numa sexta-feira, o ideal é que ela tenha que fazer isso o mais rapidamente possível, em até 72 horas, mas muitos serviços não funcionam no fim de semana. É preciso ter serviços com horários e turnos diferenciados. Esses são obstáculos que ainda impedem a PEP de crescer mais. Já cansei de indicar para as pessoas que tiveram prática de risco na noite de sexta-feira para procurar a Fiocruz no domingo porque o [Hospital] Evandro Chagas já está aberto. Mas são poucos os serviços, inclusive a própria população não só não conhece a PEP como não conhece os serviços que estão disponíveis. Então, tanto o acesso da profilaxia como o conhecimento sobre a profilaxia ainda precisam avançar.
Hoje há uma geração que não vivenciou o pico da epidemia de Aids, um grupo que está iniciando a vida sexual. Como falar com esse público?
Isso esbarra justamente no contexto conservador que a gente vive, em que é muito difícil falar na televisão sobre travestis e vida transexual. Falar sobre sexualidade na escola também se tornou um problema atualmente. “Ah, estão incentivando as práticas sexuais nos jovens; sexualidade é para ser falada na família”. Mas a família também não fala, e a gente vê os casos de Aids, DSTs e gravidez indesejada em alto número na população jovem. É isso o que o Brasil vive. Campanhas deixam a desejar, e a população desconhece muita coisa sobre o que são e para que servem as profilaxias. É preciso envolver mais as comunidades para que acompanhem os estudos e, dessa maneira, possam incorporar a profilaxia no seu dia a dia. Há um avanço no sentido de incorporar, mas essa incorporação precisa melhorar muito.
A Abia tem um acervo de mais de 30 mil itens de 40 países, atualmente sob a guarda da Fiocruz. Lá estão, por exemplo, as matérias que revelam como a imprensa abordou o tema e o material de campanha de prevenção. Se fosse possível resumir o que esse acervo de 40 anos nos diz, especificamente em relação ao Brasil, o que você destacaria?
Esse acervo é um patrimônio da sociedade brasileira porque reúne expressões de vários setores, desde ONGs a movimentos sociais, governos e academia, que, num esforço coletivo, procuraram enfrentar a Aids e conseguiram resultados muito bons num país onde a saúde pública encontra uma série de dificuldades. Então, uma grande parte desses resultados positivos, desse grande esforço coletivo, está nesse acervo.
Hoje há uma corrida pela vacina contra a Covid-19. Há 40 anos, a Aids também causou um grande susto, como atualmente a pandemia causada pelo novo coronavírus. Por que ainda não temos uma vacina contra o HIV?
O HIV é novo para a ciência. As experiências anteriores com vacinas para gripe ou outros tipos de coronavírus têm ajudado a acelerar o processo da vacina contra a Covid-19. A estrutura do HIV é diferente, [assim como] a maneira como ele se replica e transmuta. Não sabemos se um dia chegaremos a ter uma vacina para o HIV. Talvez o HIV vá ser controlado, extinto, apagado do corpo humano de outras formas, e não com vacinas. Pode ser por meio de terapias genéticas com anticorpos monoclonais, coisas que poderiam erradicar o vírus ou [algo] próximo disso, até se chegar a uma ideia de uma cura. Enquanto que, para o novo coronavírus, a ideia é que se tenha uma vacina ou várias vacinas. porque os tipos de mutação são muito mais rápidas.
Você concluiu a graduação em psicologia em 1985. Naquele período o mundo ainda estava vivendo o susto da Aids, tentando compreender o que estava acontecendo. Você tem se dedicado a esse tema desde então. Considerando essas quatro décadas, qual o momento mais importante na resposta ao HIV/Aids?
São vários marcos, mas há quatro muito importantes para mim e nos quais a sociedade civil atuou de maneira muito marcante. Um deles é a chamada lei do sangue, que proíbe a comercialização do sangue transfundido no Brasil e determinada que a transfusão de sangue passa a ser responsabilidade do Estado. Isso foi muito importante e mostra como uma decisão política pode efetivamente salvar vidas e mudar o curso de uma epidemia. A partir dali, a transmissão via sanguínea, por transfusão, caiu a níveis quase inexpressivos. Foi uma grande vitória da sociedade brasileira em 1988.
Um segundo momento é a aprovação da Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids. Ela sacramenta que o enfrentamento a uma epidemia tem que ser feito dentro do marco dos direitos humanos. Ela associa a saúde pública e direitos humanos. É um esforço mútuo eficaz para enfrentar uma epidemia, porque garante os direitos à vida e à saúde, mas também o direito ao trabalho e ao lazer. Tudo isso é muito importante para a saúde como um todo. Em 1996, a distribuição universal dos antirretrovirais é um grande marco para o SUS, porque se provou que a universalidade é possível. É um princípio que realmente leva a políticas e a ações muito efetivas. Então, rompeu-se com essa associação [de que] Aids [é] igual a morte. Depois de 1996, a vida com HIV se transforma numa realidade. E em 2007, [houve] o licenciamento compulsório do Efavirenz, que mostrou que o medicamento é um direito humano fundamental, e que as barreiras comerciais e de propriedade intelectual não podem se sobrepor ao direito à vida e à saúde.
Deveríamos, portanto, olhar com muita atenção para a forma como enfrentamos a epidemia de HIV/Aids?
São muitas lições que foram adquiridas ao longo desses anos. São resultados importantes no campo da prevenção, da assistência, do diagnóstico, do cuidado, das políticas, na questão dos direitos humanos, que poderiam ser usados como uma referência no trabalho de enfrentamento à Covid-19.