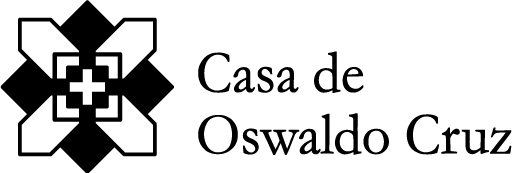| Imagem: Jean-Baptiste Debret. |
Por Karine Rodrigues
No Brasil das primeiras décadas do século 19, o universo das artes de curar consideradas legítimas era muito mais diversificado do que o encontrado atualmente. Além dos médicos, que já ocupavam o topo da hierarquia no diagnóstico e tratamento de doenças, cirurgiões, boticários, sangradores, parteiras e curandeiros exerciam seus ofícios. Os diversos saberes eram aceitos pelo governo, desde que submetidos aos exames obrigatórios para obtenção das licenças e cartas necessárias à prática.
Existia uma hierarquia bem traçada. Os médicos aceitavam a atuação de curandeiros, desde que não houvesse outros médicos e cirurgiões na área; parteiras, desde que os chamassem nos casos de complicações no parto; e sangradores, desde que sob orientação de cirurgiões
“A hegemonia da medicina alopática, acadêmica, oficial, não está dada desde sempre. Minha pesquisa e as de outros historiadores mostram que havia um universo de saberes e práticas de cura que poderiam ser oficializados muito mais diversificado do que o observado hoje em dia”, relata a historiadora Tânia Salgado Pimenta, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), acrescentando que ali se deu o início da longa luta da corporação médica para obter o monopólio das artes de curar no Brasil.
No período em questão, acadêmicos ou terapeutas populares poderiam atuar de forma legítima, desde que munidos com a carta ou licença emitida pelo governo, por meio da Fisicatura-mor, responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades relacionadas às artes de curar. Criado após a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, em 1808, o órgão seguiu ativo até 1828.
A documentação reunida nas duas décadas de existência da Fisicatura-mor contribui para a compreensão da assistência à saúde na época, cenário detalhado pela historiadora no artigo Médicos e cirurgiões nas primeiras décadas do século 19 no Brasil, publicado na revista Almanack, periódico acadêmico da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). No estudo, Tânia analisa práticas e perfis dos terapeutas do período, assim como os processos sobre oficializações de atividades médicas da Fisicatura-mor no Brasil.
A investigação detalhada na documentação sob a guarda do Arquivo Nacional, aponta, por exemplo, peculiaridades da atuação de médicos e cirurgiões. Aos primeiros, cabia a prerrogativa de diagnosticar e tratar o que se chamava de doenças internas. Por serem diplomados, acreditava-se que teriam o conhecimento necessário para lidar com as moléstias que se desenvolviam dentro do corpo, como se dizia então, lançando mão de medicamentos a serem ingeridos. Cirurgiões, por sua vez, tratariam das doenças externas.
Cirurgia era menos valorizada do que a medicina
Mudanças na legislação, realizadas em 1813, passaram a permitir que os cirurgiões formados pudessem curar todos os tipos de enfermidades, inclusive as internas, desde que, no local de atuação, não existissem médicos. Com isso, poderiam também enfrentar hepatites, febres, afecções pulmonares, hemorragias uterinas, enfim, “moléstias que demandavam tratamentos longos e gastos significativos”, segundo Tânia.
“A cirurgia era considerada uma atividade manual, o que era menos valorizado do que a medicina, um ofício liberal. Havia ainda uma aproximação maior com a sangria e a parturição porque usavam instrumentos cortantes semelhantes e lidavam diretamente com o sangue. As artes de cirurgia, sangria e de partejar eram responsabilidade do cirurgião-mor. O físico-mor regulava e fiscalizava médicos, boticários e curandeiros. Com a formação mais acadêmica, a cirurgia passou a se aproximar mais da medicina”, relata a pesquisadora.

Hospital da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Imagem: Tomas Ender.
Naquela época, não existiam ainda no Brasil as faculdades de medicina, portanto, os médicos se formavam em instituições estrangeiras. Entre 1808 e 1828, 59 médicos se dirigiram à Fisicatura-mor em busca de autorização para exercer suas atividades, num universo muito maior, de 2.126 solicitações de carta ou licença, revela Tânia em seu artigo. Segundo a historiadora, eles atuavam visitando os doentes, atendendo agregados e escravizados e acompanhando a evolução das enfermidades.
“Existia uma hierarquia bem traçada. Os médicos aceitavam a atuação dos curandeiros, desde que não houvesse outros médicos e cirurgiões na área; das parteiras, desde que os chamassem nos casos de complicações no parto; e dos sangradores, desde que atuassem sob a orientação de cirurgiões”, afirma a pesquisadora. “O regulamento e os processos burocráticos apontavam que essas práticas só eram admitidas porque não havia médicos e cirurgiões em número suficiente para atender a população.”
A historiografia sobre as artes de curar no século 19 mostra, no entanto, que a população procurava os terapeutas populares porque havia, em certa medida, o compartilhamento de concepções sobre corpo, doença e saúde, explica Tânia. Segundo a pesquisadora, os terapeutas populares foram fundamentais para garantir a assistência médica, sobretudo, de quem morava distante das áreas mais centrais.
“Eles faziam parte da comunidade, acompanhavam o dia a dia das pessoas. Esse fato era também um argumento utilizado para obter uma licença de curandeiro ou parteira, por exemplo, durante o período em que a Fisicatura-mor existiu. Diziam que naquele local não havia médicos ou cirurgiões e que, como tinham conhecimento e experiência, exerciam suas artes de curar por caridade. A maioria dos curandeiros, parteiras e sangradores permaneceram atuando sem autorização para isso, principalmente nas regiões mais distantes dos grandes centros”, observa a historiadora, que já analisou a atuação de barbeiros, sangradores e curandeiros no Brasil em artigo publicado na revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos.
Assistência à saúde não era preocupação, exceto em epidemias
As autoridades responsáveis pela saúde pública à época estavam mais atentas ao vai e vem nos portos, onde a circulação de doenças contagiosas poderia prejudicar as relações comerciais com outros países, e à fiscalização dos estabelecimentos de venda de comida e bebida. “A assistência à saúde não constituía uma preocupação, uma obrigação do Estado, exceto em períodos epidêmicos”, diz, ao explicar que os cuidados com a saúde da população eram prestados por particulares, especialmente irmandades.
Os hospitais das casas de caridade acabavam empregando cirurgiões e médicos. Mas, em geral, tanto pobres quanto escravizados preferiam recorrer a sua rede de solidariedade e a terapeutas populares. As pessoas iam para o hospital em último caso
O hospital da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, então o mais importante do Rio de Janeiro, era responsabilidade da irmandade da Misericórdia. Lá, eram atendidos gratuitamente indivíduos considerados pobres e os seus escravos. Em troca, a instituição recebia do Estado privilégios e subsídios. A saúde como direito só viria mais de uma centena de anos depois, com a Constituição de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Os hospitais das casas de caridade acabavam empregando cirurgiões e médicos, constituindo um importante local de disseminação da medicina acadêmica. Mas, em geral, tanto pobres quanto escravizados preferiam recorrer a sua rede de solidariedade e a terapeutas populares. As pessoas iam para o hospital em último caso. Os mais abastados nem iam, pois pagavam por cuidados médicos em casa”, conta a historiadora.
Reprovação nos exames para as artes de curar eram raras
A autorização para exercer as artes de curar era concedida após a comprovação da capacidade do candidato. Ele poderia ser submetido a questões práticas e teóricas sobre enfermidades de forma geral – formuladas por dois médicos e pelo juiz delegado – ou demonstrar conhecimento sobre doenças recorrentes na região, detalhando causas, sintomas e cura. O postulante poderia ainda descrever o quadro de um paciente, seguido de perguntas para melhor se ter compreensão do caso.
Os exames eram aplicados por dois examinadores e um juiz – no caso, um físico ou cirurgião-mor, se a avaliação se desse na Corte; e, se em outras localidades, eles se faziam representar por um delegado. Todos eles deveriam ser remunerados por isso.
Havia reprovações, mas eram raros casos como o de João Antônio da Silva, nascido em Maricá, no interior do atual Estado do Rio de Janeiro, casado e com dois filhos, que Tânia relata em seu artigo. Em setembro de 1812, ele se viu diante do desafio de identificar a moléstia de um sujeito hipotético, de 30 anos, forte, bem constituído, que, após exposição ao ar, sente febre, pulso longo e forte, secura de língua, acessos de calor, dor no lado direito do peito, dificuldade de respirar e urinar e pele seca.
No caso da sangria, médicos e cirurgiões a prescreviam pensando em distribuir melhor os humores no corpo humano, por um lado, e curandeiros de origem africana podiam sangrar o doente com o intuito de retirar espíritos malignos
“É um pleuris. Deve ser sangrado no braço do mesmo lado da dor, e depois das sangrias necessárias deitar-se um vesicatório em cima da mesma portada, e por-se-há o doente em uso de cozimento antipleuris, e na falta de não haver pode se remediar com os purgantes antiflogísticos”, recomendava. “Dieta enquanto tiver febre não deve senão tomar de duas em duas horas uma xícara de caldo de galinha, e tomará de cozimento antipleuritico duas vezes ao dia”, ensinava o candidato. Reprovado, não se deu por satisfeito: dois anos depois, estava, novamente, diante da Fisicatura-mor. Desta vez, conseguiu uma licença provisória.
Se aos olhos de hoje causa estranhamento o tipo de tratamento dispensado aos doentes naquele período, Tânia observa que os recursos terapêuticos usados por médicos, cirurgiões e terapeutas populares eram semelhantes: em geral, medicamentos à base de plantas e sangria.
“Apesar disso, possivelmente, justificavam o seu uso de modo diferente, como no caso da sangria, em que médicos e cirurgiões a prescreviam pensando em distribuir melhor os humores no corpo humano, por um lado, e curandeiros de origem africana podiam sangrar o doente com o intuito de retirar espíritos malignos”, detalha.
Terapeutas populares passaram a ignorantes e charlatães
Apesar das especificidades encontradas sobre as artes de curar, os documentos da Fisicatura-mor indicam que não havia um saber homogêneo e consolidado sobre as enfermidades, conclui a historiadora. Mais ainda: embora existisse uma hierarquia, que destacava o saber médico em relação ao conhecimento de cirurgiões e terapeutas populares, o que se via, no dia a dia, era que “eles atuavam sem distinção em relação aos formados nas universidades”.
Em 1828, com o fim da Fisicatura-mor e a criação das faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, quatro anos depois, houve uma mudança nesse cenário da assistência à saúde, observa Tânia, que em seu mestrado e doutorado em História Social se debruçou sobre os exercícios das artes curar no Brasil, em um período que vai de 1808 até 1855, e abordou o tema em artigo publicado em História, Ciências, Saúde – Manguinhos.
“Curandeiros, sangradores e parteiras passaram a ser desqualificados, e seus saberes e práticas, considerados legítimos até 1828, foram aos poucos sendo associados a ignorância e charlatanice. A legislação foi alijando os terapeutas populares do universo legal das artes de curar e deu aos médicos o monopólio sobre elas. Foi um longo processo, que tomou todo o século 19 e adentrou o 20”, relata a historiadora, sobre uma batalha que, desde então, já garantiu outros rounds.